O homem é o coronavírus do mundo*
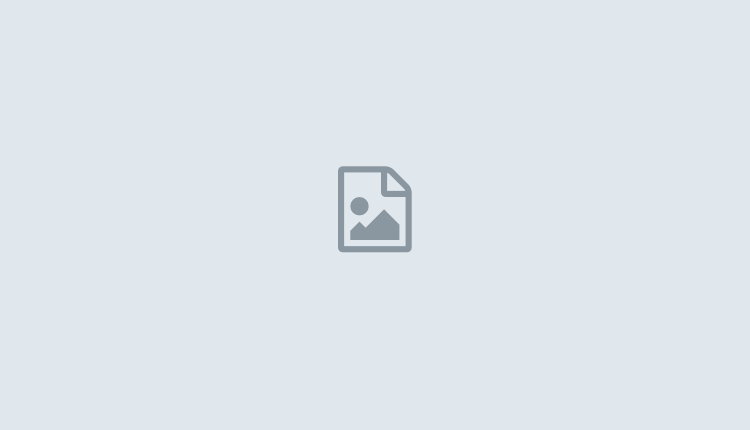
A frase do título persistiu comigo. Pensei nela ainda por alguns dias, depois de ter lido a entrevista do escritor cubano Leonardo Padura, autor de O Homem Que Amava os Cachorros. Entrevista curta, sem rococós, publicada em jornal paulistano de grande circulação. Sim, Padura tem razão. O ser humano é o coronavírus do mundo. Lapidada a máxima, extirpado seu exagero figurado, ela ainda remanesce prenhe de significado, escancarando a nós o que preferimos manter escondido. Somos os parasitas do mundo.
Nós sugamos incessantemente, através dos milênios, os recursos naturais do planeta, exaurindo-os – sem nada, ou quase nada, devolver-lhe. Parasitamos o mundo, consumimos a natureza, sem nos preocupar com sua debilidade ou morte. Nem mesmo nos atentamos para o fato de que a morte da natureza – a hospedeira – implicará também a morte do homem, seu parasita viral. O parasita precisa do hospedeiro. Já este estaria melhor sem aquele.
É fato: somos parasitas da natureza. A frase do escritor caribenho, entretanto, parecer ter um alcance ainda maior. Não parasitamos apenas o planeta e suas espécies – parasitamos também a nós mesmos. Há nas relações humanas uma espécie de parasitismo social antropofágico. E, talvez, ninguém tenha falado tão bem sobre o assunto por meio da arte senão o diretor e roteirista sul-coreano BongJoon-ho, cujo filme mais famoso, Parasita (Gisaengchung, Coreia do Sul, 2019), recebeu, na última temporada, os dois prêmios máximos do cinema: o Oscar de melhor filme e a Palma de Ouro.
O roteiro, ao identificar o parasitismo intersocial por meio de enredo ao mesmo tempo engraçado, dramático e de suspense, agradou a todos. Conta-nos a história da família Kim, formada por um casal e seus dois filhos. São pobres e estão todos desempregados. Habitam um porão na periferia de Seul, capital da Coreia do Sul, e vão sobrevivendo como podem, valendo-se de pequenos golpes. Pouco a pouco, usando de expedientes eticamente condenáveis, conseguem todos eles empregar-se na casa da família Park – uma família também composta de um casal e dois filhos, mas de outro nível socioeconômico. Gozam de dinheiro, conforto e luxo; e moram em mansão modernista localizada na parte alta da cidade.
Os Kims infiltram-se na casa dos Parks e vão tirando cada vez mais proveito da situação. Está claro, pelo menos até aí, que são eles os parasitas de que fala o título da obra – até que se começa perceber que a história tem muito mais matizes, e vai revelar boas surpresas.
Muito apoiado na direção de arte (responsável por construir a impressionante casa dos Parks), a narrativa mostra não dois, mas três estratos sociais: o dos risco, estruturado na residência luxuosa situada no alto de uma colina; o dos pobres, cujo espaço se centra em porão apertado e claustrofóbico; e o dos indigentes, cujo locus se desenha abaixo do nível de porão, numa espécie de subsolo escuro e inabitável. A correlação entre os cenários e a posição social dos personagens é algo muito marcante no filme, e é a base sobre a qual se monta toda a narrativa.
Os seres do porão não são os únicos a exercer o parasitismo. Muitos dos outros, a seu modo, também o exercem, numa espécie de antropofagia intersocial. Os seres de um estrato social vão devorando os de outro estrato, não importa se abaixo ou acima. Importa tirar o máximo proveito, usufruir quanto possível. O roteiro, sem dúvida, mostra atritos sociais, mas não exatamente a luta de classes – conceito mais complexo, que pressupõe certa consciência de classe. O foco do enredo parece ser mais antropofágico que classista, ainda que o movimento transite não dentro do mesmo estrato, mas entre eles. No lugar da luta de classes, os espaços parecem ocupados pelo egoísmo e pelo hedonismo tipicamente humanos.
A despeito da vivacidade e da contemporaneidade da história apresentada, o filme é ainda maior. O paroxismo é a direção do sul-coreano. Ele não perde a mão nem por um minuto, dirige a câmera com ritmo e rigor, entrega força estética aos enquadramentos e, de quebra, tem o controle total do set, mantendo a harmonia e a coesão do elenco e extraindo dos atores o máximo da arte dramática.
O elenco responde à altura. Não há atores mais fracos, nem mesmo os mais secundários. Todos, com notável precisão, cumprem seu personagem. A direção de arte (responsável por tirar do papel os cenários que corporificam os estratos sociais) e a simbiose entre montagem e trilha sonora (responsável pela vibração dos enlaces na segunda parte do filme) aprofundam a qualidade técnica da obra. E a fotografia, embora tenha falhado na parte final, deixando pesar o escurecimento das cenas que precedem o clímax, revela um tratamento cuidadoso das cores e dá o apuro estético que o trabalho cenográfico pede.
Ao longo de pouco mais de duas horas, o diretor BongJoon-ho, reunindo sob sua batuta atuações rigorosas e qualidades técnicas inquestionáveis, vai movendo seus personagens pela teia parasitária da sociedade humana, e nos faz rir, mas, ao mesmo tempo, refletir. Consegue nos emocionar; e nos assustar. Seus personagens são parasitas egóicos, mas também são humanos – intensamente humanos.
Sim, Parasita é um filme completo. É uma obra para marcar. Os tempos de hoje, mergulhados na pandemia provocada pelo novo parasita viral, igualmente marcarão. No futuro, serão lembrados como época turva e assustadora, mas também como período do qual o homem poderá emergir melhor. Depois de tudo, obviamente ainda seremos humanos e padeceremos dos mesmos vícios. A mirar no passado, porém, poderemos iniciar uma longa e progressiva migração, abandonando o parasitismo e nos instalando em novas relações, agora urdidas no mutualismo.
